Encontros entre comunidades da Rede Meli acontecem cerca de duas vezes ao mês, mas o encontro com a fala do Kukuy Apurinã me foi particularmente emocionante. Nesse texto eu compartilho como eu experiencio tópicos que foram abordados nessa reunião.
Autora: Ana Rosa.
Read in English.
A Meli realiza cerca de dois encontros por mês entre as comunidades, para nos conhecermos e fortalecermos os laços. É um espaço para trocas orgânicas que fortalecem as comunidades ao encontrar parceiros de caminhada apoiando tanto no desenvolvimento de suas práticas regenerativas quanto no enfrentamento dos desafios que vivenciam nessa jornada.
No primeiro encontro desse formato, vimos uma indígena Tupinambá, da Bahia, oferecer contatos para solucionar um desafio que já foi vivido por eles e agora está sendo enfrentado por uma comunidade extrativista no Maranhão. Exemplos como esse mostram o quão próximas estão as comunidades que podem parecer tão diferentes em um primeiro momento. A realidade de uma comunidade pode ressoar com a realidade de outros participantes, possibilitando novas conexões para o fortalecimento de ambos.

No dia 2 de junho, a roda de conversa entre os membros da Rede Meli ouviu um pouco da realidade do Kukuy Apurinã. Ele falou sobre atividades de grande impacto na sua região da Amazônia ocidental, como a construção de estradas, que resultaram em movimentos de colonização e perda de floresta e de cultura.
Ele mencionou também sobre os impactos históricos, como o que podemos observar durante o ciclo da borracha.
Atividades que resultam na perda da ancestralidade indígena. O tema ressoou em vários outros participantes. Afinal, o esmagamento da cultura indígena aconteceu de maneira similar em várias outras regiões do país. A Kowawa Apurinã, antropóloga indígena que está fazendo sua pesquisa na Bahia, retrata que lá os indígenas foram transformados em “caboclos”. O Vavá Terena me contou sobre o “Período dos Esparramados”, quando a guerra do Paraguai e conflitos regionais adentraram em territórios indígenas. Grande parte da população originária na região do Mato Grosso do Sul foi então para fazendas. Ao voltarem, viram o território nas mãos de não indígenas, registrado como propriedade privada, com o estado facilitando essa apropriação através da lei de terras de 1850. Eu também me conectei com a fala do Kukuy. Ele descreveu a história da minha família.
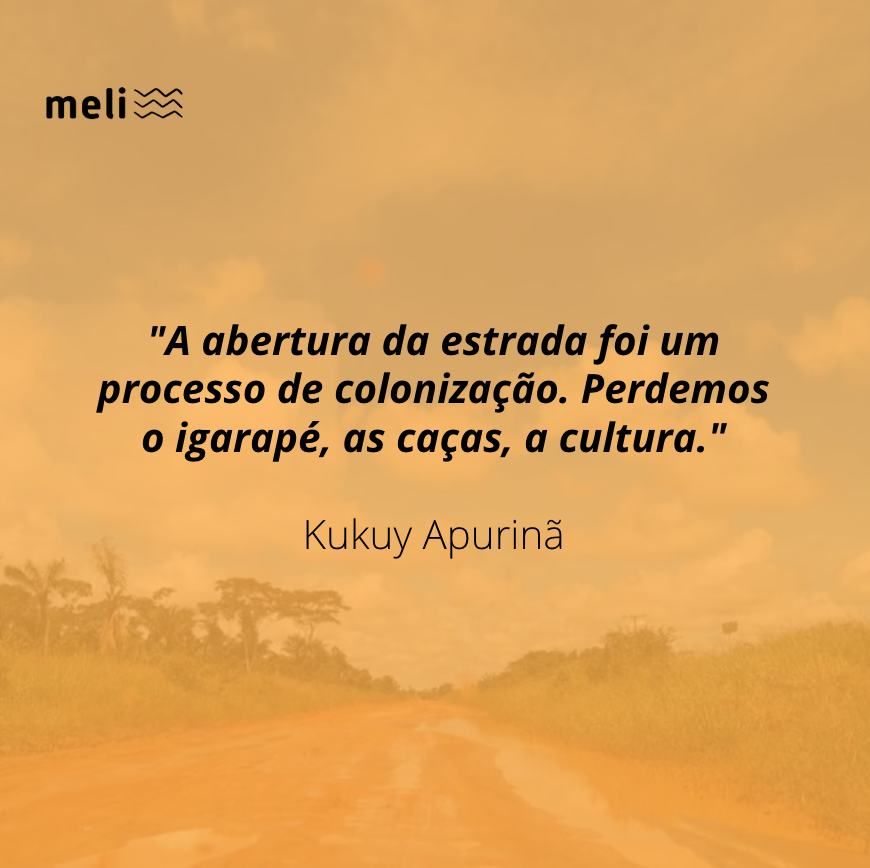
Quando ele falou da história da Amazônia e destacou momentos em que “eles transformam o indígena em um seringueiro”, eu me emocionei. Meu avô afirmava ser seringueiro.
A medida que o Kukuy foi descrevendo como os povos indígenas tem sido arrancados de sua terra “perda do igarapé, perda das caças, perda da cultura”, senti a minha ancestralidade sendo arrancada de mim.
Esse ressoar foi mais forte do que na maioria dos encontros, ele foi sobre identidade. Sobre o que somos, como nos entendemos e como somos entendidos pela sociedade a nossa volta.
Há alguns meses, eu fiz o teste do MyHeritage. De acordo com o teste tenho 40% de DNA nativo americano. Mas o fenótipo com que sou mais relacionada é o Ibérico, 25% do meu DNA, de acordo com o mesmo teste. O que esse teste diz sobre a experiência dos meus antepassados e a reflexão dessa experiência em como eu experiencio a vida?
Cerca de uma semana depois de receber esse teste, ouvi de um professor do Pará que “a minha genética não me dá lugar de fala” sobre questões indígenas. Essa não foi a primeira vez que estive em situações assim, já fui questionada sobre o meu “direito de trabalhar com comunidades indígenas” por inúmeras vezes, tanto dentro do Brasil quanto fora dele, afinal, eu atualmente moro no velho continente. Agora, sendo a maior parte do meu DNA originário das Américas, mas podendo contar nos dedos as vivências indígenas que tive dentro de casa, o que me é permitido?
Eu não cresci em uma aldeia. E por muito tempo não me sentia a vontade em falar abertamente sobre a minha ancestralidade indígena, uma vez que ela não foi vivida de perto. Poderia parecer que eu estava “me aproveitando”. Afinal, sou compreendida como uma pessoa branca, o que está atrelado a acessar privilégios. Mas negar a minha ancestralidade indígena talvez seja apenas um exemplo concreto de como esse pertencimento foi brutalmente arrancado do meu povo.
Quantas outras pessoas tiveram a sua ancestralidade arrancada através da colonização? Ir a cidade e ter acesso a escolas pode ter gerado “oportunidades”, mas às custas da transmissão de conhecimento pela “convivência com os pais e avós e com a natureza” descrita pela Vanda Witoto a BBC. Isso claramente não só no Brasil, mas por todo o mundo, como mostra o Canadá com suas escolas residenciais indígenas. Precisamos deixar de ignorar esse pedaço da nossa história.
Eu saí do encontro com ainda mais força para afirmar a minha ancestralidade indígena. Sinto que meu trabalho é uma forma de retomada. Através dele eu pude ter me conectar com diversas comunidades indígenas e participar de conversas buscando entender o significado da expressão “povos indígenas e comunidades tradicionais”. Eu entendo que essa expressão está fortemente ligada com uma base comunitária e que eu não posso clamar uma conexão com o povo Kokama, uma vez que nem mesmo estive em seu território. Mas eu não quero apagar esse pedaço da minha história. O meu trabalho fortalece diversas comunidades, apesar de saber que a comunidade dos meus avós foi arrancada de mim. Ou exatamente por causa disso.
Featured image: Hevea brasiliensis. Author: krishna naudin. Via Creative Commons cc-by-sa-2.0.


2 Replies to ““Transformam o indígena em um seringueiro””